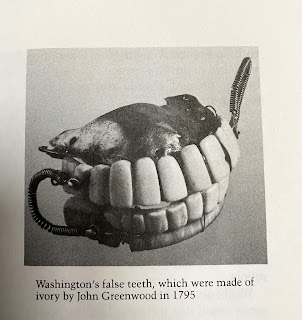quinta-feira, 10 de dezembro de 2020
terça-feira, 8 de dezembro de 2020
American Democracy
Quando se mudou para a Casa Branca ainda em contrução, John Adams, o 2.º presidente dos Estados (na altura, quase todos) Unidos escreveu "I pray to Heaven to bestow the best Blessings on this House and all that shall hereafter inhabit it. May none but honest and wise men ever rule beneath this roof." Oração que nem sempre foi atendida mas que nunca esteve tão longe de ser concretizada como nestes últimos quatro anos em que o Trump a habitou.
Foi no entanto nos livros que encontrei o verdadeiro gosto pelo cineasta nova-iorquino lendo os seus textos e as suas peças de teatro. Agora regressei à sua leitura e mergulhei na sua autobiografia publicada este ano e foi reconfortante perceber que foi através da escrita que ele começou e que é como escritor que ele quer ser recordado. Claro que esse desejo de eternidade é temperado com algum cinismo porque estamos sempre a ser recordados que até os verdadeiros grandes génios da humanidade, de entre os quais ele nunca se considera, um dia destes vão ser esquecidos porque nada neste universo é eterno e nós humildes criaturas que o habitamos há tão pouco tempo, ainda mais frágeis candidatos a qualquer espécie de eternidade havemos de ser. Até lá que isso não nos impeça de apreciar o verdadeiro génio quando com ele nos encontramos, salvaguardando sempre que o gosto pelo trabalho de um génio é sempre discutível e muito pessoal.
Esta autobiografia leva-nos desde um bairro de Brooklyn nos anos 30 habitado por família judia da classe média baixa até a uma Penthhouse na 5.ª avenida nos anos 70 habitada por um solteirão namoradeiro que se casou apenas duas vezes, uma primeira sem grande sucesso com uma atriz, Louise Lasser, e uns anos mais tarde com Soon-Yi, casamento que dura até aos dias desde hoje e que se mantém bem e de saúde desde os finais dos anos 90. Está escrita no tom ao qual já nos habituámos, humor neurótico e inteligente, que não sendo uma apologia deve ser lido como um ajuste de contas com o destino, com a sagacidade que os anos lhe conferem e a humildade genuína de quem sabe ser mais do que os outros julgam mas, sempre um pouvo menos do que levamos os outros a crer.
sábado, 10 de agosto de 2019
Gente Comum
Os prémios dão-nos uma falsa segurança sobre a qualidade do objeto do nosso desejo, eu ainda olho para eles para validar as minhas escolhas. Claro que escolho os prémios de entre os prémios e confesso que tenho tendência para gostar mais daqueles que sinto mais próximos da minha sensibilidade. No entanto, de ano para ano cada vez ligo menos aos prémios, fui aprendendo a olhar para eles com desconfiança porque afinal pouco ou nada sei sobre o painel de pessoas que o validam e porque nos bastidores desses prémios os indivíduos que fazem parte desses painéis não estão apenas presos a preconceitos, aos quais ninguém escapa, mas acima de tudo porque têm quase sempre uma tendência subversiva manifestada na dívida material ou emotiva para com amigos ou pessoas mais próximas que acham que devem servir, elogiar ou ajudar a promover.
Por causa dos prémios, e críticas literárias, já comprei livros que nada me dizem e que me deixam com a sensação de engodo. Por isso cada vez com menos frequência sigo o ditame dos prémios literários ou das longas listas de final do ano que incluem o melhor do que foi publicado. Mas há fascínios que não morrem só porque a razão assim o deseja e lá acabo por comprar aquilo de que toda a gente fala, claro que cada vez menos será uma gente qualquer, passo o snobismo literário.
Acabei então por comprar o primeiro livro da Sally Rooney, jovem escritora irlandesa, ampla e universalmente aclamada pelos quatros cantos do mundo literário. O livro foi lido no original “Conversation with friends” mas já existe uma tradução portuguesa. Sim, ganhou pelo menos um prémio literário e foi elogiado por críticos da New Yorker, revista onde a autora já imprimiu alguns textos, e outras publicações de referência.
Eu lancei-me na leitura do livro e é sem dúvida uma literatura que me cativou desde as primeiras páginas, elegante, subtil, profunda e com um sentido de diálogo que dá uma lição a muitos escritores que para aí andam. Ao terminar o livro fiquei com a sensação de que é um livro competente, muito bem escrito, mas que não passa de um prólogo para o que se lhe seguiu, esse sim, um livro extraordinário e onde é notório que a autora se encontra já sem as amarras que se pressentiam inicialmente na sua obra de estreia. É nesse segundo livro da autora “Normal People”, também já com tradução lusa, que se percebe claramente que estamos perante uma nova e brilhante voz da literatura contemporânea. Tudo no livro é perfeito, o tom, a profundidade, a emoção e como não podia deixar de ser o modo comovente como nos é apresentada a estória da relação entre duas pessoas comuns, um retrato tão íntimo que faz com que o leitor seja o meio através do qual as emoções das personagens navegam, e isso julgo que talvez seja o maior elogio que se pode fazer a um escritor.
Por causa dos prémios, e críticas literárias, já comprei livros que nada me dizem e que me deixam com a sensação de engodo. Por isso cada vez com menos frequência sigo o ditame dos prémios literários ou das longas listas de final do ano que incluem o melhor do que foi publicado. Mas há fascínios que não morrem só porque a razão assim o deseja e lá acabo por comprar aquilo de que toda a gente fala, claro que cada vez menos será uma gente qualquer, passo o snobismo literário.
Acabei então por comprar o primeiro livro da Sally Rooney, jovem escritora irlandesa, ampla e universalmente aclamada pelos quatros cantos do mundo literário. O livro foi lido no original “Conversation with friends” mas já existe uma tradução portuguesa. Sim, ganhou pelo menos um prémio literário e foi elogiado por críticos da New Yorker, revista onde a autora já imprimiu alguns textos, e outras publicações de referência.
Eu lancei-me na leitura do livro e é sem dúvida uma literatura que me cativou desde as primeiras páginas, elegante, subtil, profunda e com um sentido de diálogo que dá uma lição a muitos escritores que para aí andam. Ao terminar o livro fiquei com a sensação de que é um livro competente, muito bem escrito, mas que não passa de um prólogo para o que se lhe seguiu, esse sim, um livro extraordinário e onde é notório que a autora se encontra já sem as amarras que se pressentiam inicialmente na sua obra de estreia. É nesse segundo livro da autora “Normal People”, também já com tradução lusa, que se percebe claramente que estamos perante uma nova e brilhante voz da literatura contemporânea. Tudo no livro é perfeito, o tom, a profundidade, a emoção e como não podia deixar de ser o modo comovente como nos é apresentada a estória da relação entre duas pessoas comuns, um retrato tão íntimo que faz com que o leitor seja o meio através do qual as emoções das personagens navegam, e isso julgo que talvez seja o maior elogio que se pode fazer a um escritor.
sábado, 15 de junho de 2019
Este ano com um espectáculo de Robert Wilson no CCB que dirige Isabelle Huppert em Mary disse o que disse. Este será o grande anzol mas o peixe poderá ser bem mais graúdo do que o desgastado minimalismo teatral do Robert Wilson. Consultando o programa aguça-se o apetite para pelo menos meia-dúzia de espectáculos que valerá a pena arriscar e nem todos vindos do estrangeiro.
A Lulu do Franz Wedekind encenado pelo Nuno M Cardoso, um clássico do século XX muito poucas vezes apresentado em Portugal e que já foi protagonizado pela enigmática Louise Brooks no filme de G. W. Pabst Pandora´s Box ou revestido musical e atonalmente pelo compositor Austríaco Alban Berg. De produção nacional também importa destacar uma peça de Jean Genet Colónia penal encenada pelo António Pires e cuja revisitação é sempre urgente.
Depois é só escolher entre o teatro italiano, croata ou francês para constatar que apesar de todas essas diferentes origens geográficas será tudo muito do que isso, porque o teatro não tem fronteiras e já se sabe que usa de uma linguagem universal.
terça-feira, 28 de agosto de 2018
Nós somos aquilo que lemos ou procuramos nos livros aquilo que somos? Talvez não tenhamos que escolher entre estas duas opções e as possamos tornar inclusivas. Edmund White não é um escritor de romances que eu tenha vontade de ler mas o mesmo não posso dizer das biografias que ele tem escrito, aquela que será a sua Opus Magnum, sobre o escritor Jean Genet, as mini biografias de Marcel Proust ou de Rimbaud e ainda aquela que é um guia, e porque não também uma biografia, pouco ortodoxo que nos poderá acompanhar numa visita à cidade de Paris, The Flâneur. Existe ainda a autobiografia, My lifes, da qual o seu último livro “The Unpunished Vice – a Life of Reading” é o posfácio perfeito. Neste livro Edmund White apresenta-nos o seu percurso de leitor, desde a altura em que se tornou um leitor obsessivo até ao presente e leva-nos por corredores de bibliotecas desconhecidas onde se escondem alguns segredos literários, mais ou menos bem guardados. Por vezes o estilo torna-se demasiado académico e preso numa engrenagem pesada, típica de quem frequenta há demasiado tempo o meio académico e precisa de justificar algumas das suas predileções literárias com o aparecimento de frases e citações de textos, à semelhança de um bom artigo científico. Por aí a leitura do livro não me agrada mas existem momentos, felizmente muitos, em que o escritor deixa de pensar nos seus colegas académicos, ou nos seus alunos de escrita criativa, conseguindo cativar-me como leitor ao ponto de interromper a leitura do seu livro e fazer-me ir procurar os nomes dos autores de que fala, para que eu os possa acrescentar à minha lista de livros que vou adquirir na minha próxima visita a uma qualquer livraria virtual ou real.
Há momentos em que eu também não consigo distinguir entre o aparecimento de um nome de um escritor como sendo um favor daqueles que são comuns entre mestres do mesmo oficio ou uma referência literária genuína que nada deverá a esse tipo de favores, por essa razão talvez esteja a ser afastado de alguma grande obra literária que só pelo modo e tom com que me é apresentada me deixa sem vontade de a ler. No entanto, num ou outro paragrafo, é despertada a minha curiosidade e só por isso vale a pena ler este livro, porque potencialmente me levará a procurar, e encontrar, autores que nunca li ou que desconhecia totalmente.
É um livro que no seu melhor se transforma num diálogo franco com o seu leitor e lhe desperta a curiosidade, como se estivéssemos numa das suas aulas de escrita criativa em Princeton, mas sem sofrer dos constrangimentos físicos, e psicológicos, inerentes a ter que manifestar o desagrado por algumas passagens mais narcisistas que apontam sempre na direção da construção de um mito de pés de barro ou de um deixar cair de nomes literários que parece não ser mais que favores entre pares.
sexta-feira, 7 de julho de 2017
NOS Dead Or Alive
Na imprensa é-nos dito que todos adoramos
festivais de verão, e no inverno do nosso descontentamento até nos levam a
comprar, ainda em época natalícia, o bilhete para esse sol que esperamos venha
a ser a chave para uma garantida diversão. E ao preço que nos custa, mesmo que
depois não nos divirtamos, temos que fingir que sim.
Eu também gosto de festivais, mas
gosto daqueles festivais que respeitam os espetadores, que não vendem bilhetes
para além capacidade razoável do espaço onde vão decorrer, que têm o cuidado de
colocar o palco principal num local em que todos o possam ver e não num local
plano, pois se até já os gregos, na antiga Grécia, sabiam da existência do
anfiteatro, esse formato também não será uma novidade para os organizadores
destes festivais.
Neste momento está a decorrer um
festival cujo cartaz deste ano é um engodo baseado no esgotado cartaz do ano passado.
Se no ano passado tivemos Arcade Fire, Radiohead, Grimes, Father John Misty,
Courtney Barnnet, Hot Chip, Tame Impala, Foals, Pixies, etc este ano ficámos
pelos The Kills, que aliás estiveram no Coliseu há menos de um ano, ou os dinossauros
Depeche Mode e mais um outro ou outro doce musical espalhado pelo medíocre
cartaz. E o cartaz só é medíocre porque os organizadores sabiam que, fizessem o
que fizessem, iam vender os bilhetes todos e assim sendo para quê o esforço de
tentar fazer um bom cartaz, fica-se por onde ficaram e continua-se a usar o
slogan de que é o melhor cartaz de sempre, e alguns de nós até pode ser que se
deixem convencer disso.
Eu estive presente na origem
deste festival, antes mesmo de se chamar OptimusAlive, quando ainda se chamava
LisbonSoundz, e aí até não correu mal. Era um espaço pequeno, com a quantidade
certa de pessoas, um palco bem visível e um cartaz razoável. Mas de repente
transformou-se neste monstro de fazer dinheiro, a música passou para segundo
plano e com isso também as pessoas que gostam de ir a festivais pela música.
O ano passado, no último dia do
festival a capacidade do recinto, estava obviamente ultrapassada, e qualquer
pessoa que quisesse movimentar-se entre os vários palcos teria serias
dificuldades em o fazer, estava tanta gente na zona do palco principal que vê-lo
à distância nítida de um ecrã de televisão gigante era a única alternativa, mas
para isso talvez fosse mais inteligente ficar por casa, certo?
Estes organizadores, ávidos de
dinheiro, estão a contribuir para que quem gosta de festivais, pela música, se
afaste cada vez mais deles e para além disso como controlam as outras salas de espetáculo
acabam por não trazer concertos individuais, são mais arriscados economicamente
e dão mais trabalho a organizar, e nós ficamos condenados a um deprimente
deserto musical. A Aula Magna é um exemplo de uma sala que praticamente não tem
atividade musical digna de nota há meses a fio e o coliseu é uma sombra do que
já foi.
Por isso Sr Covões volte lá à sua
humilde tarefa de organizar bons concertos musicais, em salas decentes como as
que herdou da família, e deixe-se de festivais mortos-vivos que de Alive já só
têm o nome.
Subscrever:
Comentários (Atom)